POR UMA ARQUEOLOGIA DO SABER HISTÓRIOGRÁFICO:OS LIMITES DA CRÍTICA HISTORIOGRÁFICA - I
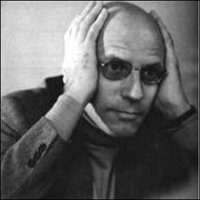 Já há bastante tempo que os historiadores identificam, descrevem e analisam estruturas, sem jamais se terem perguntado se não deixavam escapar a viva, frágil e fremente “história”. [p.13]
Já há bastante tempo que os historiadores identificam, descrevem e analisam estruturas, sem jamais se terem perguntado se não deixavam escapar a viva, frágil e fremente “história”. [p.13]Odemar Leotti
Canguilhem entende não ser possível essa forma de leitura crítica das ciências e então não o seria a mesma problemática com relação aos procedimentos historiográficos. O que nos importa mais é buscarmos entender as contingências históricas em que esses conceitos são constituídos e validados, as regras que garantiram sucessivamente durante os tempos, até chegar a nós e, instaurar em nossos sentidos, de historiadores, formas tidas como verdades sobre objetos. Não cabe a nós o papel de obediência a esses conceitos, nem entender que foi, simplesmente uma tentativa de melhor abstração sobre o objeto da história. Devemos sim, estranhar esses conceitos e, buscar no passado sua historicidade. Ir, a partir da dúvida de sua legitimidade como abstração, e mais que entende-lo como melhor ou pior, contribuinte ou não, buscar o lugar no passado em que se constituiu como verdadeiro. Como passou a ser instituída a sua validade como método de estudo, as regras que o garantiria como algo que veio refinar o que já existia no estudo do passado, na verdade é fruto de um conjunto de regras, ou melhor, as regulamentações instituídas nas comunidades de saber, e no nosso caso do saber historiográfico, muitas vezes excluem, silenciam ou afastam outras formas de análises com práticas muitas das vezes espúrias. Quais foram os meios teóricos e as variedades desses dispositivos que tomando forma de leis históricas, tornaram-se meios que lutaram para manter a sua hegemonia sobre algo que ameaçasse sua integridade e domínio. Ou como Foucault resume do estudo de um dos seus mestres, o historiador das ciências Canguilhem:
...a história de um conceito não é, de forma alguma, a de seu refinamento progressivo, de sua racionalidade continuamente crescente, de seu gradiente de abstração, mas a de seus diversos campos de constituição e de validade, a de suas regras sucessivas de uso, a dos meios teóricos múltiplos em que foi realizada e concluída sua elaboração[1]
Podemos ainda lembrar da observação, que Foucault recuperou, sobre as escalas micro e macroscópicas da história das ciências em Canguilhem. Nesse aspecto ele reafirma a não homogeneidade dos acontecimentos e de suas conseqüências. É problemático aceitarmos os ritmos impostos pelas (e nas) narrativas que tentam dar uma forma única (para aquele que produz historiografia sobre algum passado) e, conseqüentemente, garante a este um lugar, autoridade de fala, desde que dê positividade a uma forma discursiva e, desde que esta esteja alojada numa unidade literária que positive uma forma, naturalizando-a como método de explicação para o tempo histórico. Os acontecimentos não se distribuem de forma ordenada e última, são sim ordenados após operação conceitual. O pior de tudo isso é que quando algum modelo historiográfico é aplicado nos estabelecimentos de ensino, o são de forma naturalizada, sem a presença de esse tipo de análise. Fica valendo para cada clientela receptiva das aulas de história, o que está impresso e a forma que o professor repassa e fica posto como se fosse mesmo o passado.
Para além da preocupação dos críticos de esquerda que expunham as denuncias de que algum texto estava a serviço de uma classe social, existe a preocupação em saber de que lugar fala o denunciante. Aí se incluem os textos historiográficos produzidos pelo modelo estrutural marxista, ou seja, dos intérpretes de Marx, dos chamados de “ortodoxos aos considerados como “neomarxistas”. É preciso que se faça uma análise das produções historiográficas a partir do campo discursivo em que elas emergem. É preciso então estudar as produções historiográficas sobre, principalmente o passado do Brasil, a partir do campo discursivo que lhes garantiram, cada qual em sua contingência histórica e as regras que lhes garantiram a emergência e as leis de seu funcionamento. Quando saímos do campo da abstração em que foram fabricadas e nos deslocamos ao cotidiano do fazer-se como conceito, naquele instante magmático das dispersões, quando estão em estado de naturalização, poderemos encontrá-los contaminados das necessidades de afirmação de uma contingência histórica em que são instaurados. São instrumentalizações múltiplas que se dão de formas diferenciadas e, muitas das vezes, são procedimentos tais que se tornam inconfessáveis. Ou como nos afirma Foucault, na continuação de seus comentários sobre as análises de Canguilhem:
... entre as escalas micro e macroscópicas da história das ciências, onde os acontecimentos e suas conseqüências não se distribuem da mesma forma: assim, uma descoberta, o remanejamento de um método, a obra de um intelectual – e também seus fracassos – não têm a mesma incidência e não podem ser descritos da mesma forma em um e em outro nível, onde a história contada não é a mesma.[2]
As variações, nas formas de produção do passado, aparecem em suas modalidades múltiplas, que se modificam de acordo com os lugares de leitura e os campos discursivos que lhes garantem autoridade de fala sobre o passado. Essas redistribuições recorrentes, ora emergem, ora silenciam-se, garantindo uma descontinuidade no campo da produção historiográfica. No caso do Brasil a produção sobre o seu passado tomou formas que variaram quanto à temporalidade, à periodicidade, etc. O passado brasileiro sofreu descontinuidades e, sua produção sofre de tempo a tempo modificações que ficam materializadas nas obras que nos são apresentadas e, que ficam muitas vezes, algumas delas, de acordo com a contingência histórica e suas regras de emergência, excluídas das ementas apresentadas. Isso só pra falar do ensino do terceiro grau, assim como somente aquelas obras que conseguiram ser publicadas[3]. Assim vale para a análise das modalidades historiográficas que procuram explicar o passado brasileiro o que nos afirma Foucault. As redistribuições não são nunca dadas de forma linear, contínua e homogênea. Para ele, um estudo mais aproximado dos seus instantes de emergência faz:
... aparecer vários passados, várias formas de encadeamento, várias hierarquias de importância, várias redes de determinações, várias teleologias, para uma única e mesma ciência, à medida que seu presente se modifica: assim, as descrições históricas se ordenam necessariamente pela atualidade do saber, se multiplicam com suas transformações e não deixam, por sua vez, de romper com elas próprias.[4]
Ao invés de haver toda uma série de investimentos, presos à proximidade ou não, com a objetividade, não estaria essa fonte investigatória atendendo unicamente a práticas discursivas do seu estado contingente? Não seria mais frutífero estarmos estudando as construções epistêmicas a partir dos conceitos por elas produzidos ou utilizados? A ordem discursiva determina a forma de abordagem, torna-a impregnada de conceitos, tanto no pretenso objeto estudado quanto na clientela que pretende atingir. Constroem-se modelos de funcionamento de sociedades e graduações hierárquicas de percepções. Assim, municiadas, as ciências humanas pretendem estar analisando a natureza das coisas, entendendo estar fazendo uma análise científica. Melhor que ficar preso à proximidade ou não da objetividade, seria mais oportuno, analisar as estruturas discursiva ou literária que estão compondo a narrativa de alguns historiadores. Segundo Hayden White:
Quando procuramos explicar tópicos problemáticos como natureza humana, cultura, sociedade e história, nunca dizemos com precisão o que queremos dizer, nem expressamos o sentido exato do que dizemos. Nosso discurso sempre tende a escapar dos nossos dados e voltar-se para as estruturas de consciência com que estamos tentando apreende-los;ou, o que dá no mesmo, os dados sempre obstam a coerência da imagem que estamos tentando formar deles.[5]
Se procedermos a uma análise, a partir dos campos discursivos, poderemos delinear a existências de ordens discursivas garantindo, de forma não sucessiva, regimes discursivos explicadores do passado brasileiro. Com isso consegue-se entender a existência de formas narrativas no século XVI e XVII que se diferenciam das narrativas historiográficas produzidas no século XIX, que com o IHGB inauguram uma historiografia voltada para a instituição do conceito de nação para suprir as necessidades do recém império criado. Já presa a um discurso emancipador próprio da Ilustração e principalmente dentro discurso civilizador. Essa forma difere-se da historiografia do século XVI e XVII, ao observarmos a narrativa de Pero Magalhães Gandavo, de Frei Vicente do Salvador. Enquanto esses historiadores ainda ficavam nos procedimentos narrativos do seu tempo, o século XIX já trazia formas de interpretação entrelaçadas dos discursos positivistas e das narrativas que homologam seu regime de temporalidade e escolha de objetos.
Ao fazer um estudo de Nietzsche sobre os dispositivos das operações historiográficas do Iluminismo com relação ao passado, entende que:
A atitude do Iluminismo para com o passado era menos a-histórica ou não-histórica que “super-histórica”, inclinada que estava a submeter o passado ao crivo do julgamento, a dissolve-lo e, quando necessário, condena-lo no interesse das necessidades presentes e da esperança de uma vida melhor. Certamente, como até Nietzsche admitiu, esta propensão a “aniquilar” o passado é tão perigosa em sua forma quanto a simpatia indiscriminada por coisas velhas pelo simples fato de serem velhas, que constitui o indício da obsolescência de uma cultura.[6]
As historiografias de Von Martius, Varnhagen, e Capistrano de Abreu devem merecer mais do que uma análise “ideológica”, como comumente vemos em nossos críticos historiográficos mais conhecidos[7]. Com o advento do Instituto Histórico e Geográfico, inaugura no Brasil Imperial, a necessidade deu uma história que consiga disseminar nos sentimentos uma representação ocidental civilizatória. Um sentimento que entenda o sentido de nação como uma forma de civilização. Segundo Reis,
Se nos atentarmos para o pensamento de Max Scheler, as produções de Capistrano acontecem a partir da tradição do seu tempo e é ali que ele se move e faz mover seus herdeiros Paulo Prado e Oswald de Andrade. O estudo de tal acontecimento discursivo da historiografia deve receber seu tratamento em outra parte desse estudo.
O que agora queremos é pensar, essas produções historiográficas, com a ferramenta de análise, proporcionada por Foucault, White e suas ressonâncias nietzscheanas. Mais do que entendermos que essa historiografia esteja produzida a partir do poder das estruturas sociais que as garantem e determinam sua função, queremos entender a produção desses saberes historiográficos como frutos de um campo discursivo, ou de um sistema de pensamento. Procuraremos discernir as regularidades discursivas que lhes garantiram, como Unidade Discursiva e da formação de objetos, de conceitos, de estratégias. Que regime lhes garantiu a emergência e que leis garantiram seu funcionamento.
Se hoje estamos convivendo com a crise do modelo estrutural da análise da historiografia, estamos ao mesmo tempo tendo dificuldades em presenciar uma modificação do seu campo de estudos. Estas dificuldades partem de duas vertentes de análises que tentam enquadrar as leituras de Foucault. Se em dado momento da crítica entendem as leituras pós-estruturalistas como formas irracionais de análise em outro o entendem como mais um esforço de continuidade de suas formas críticas. Isso nos faz entender o difícil movimento da mutação epistemológica, devido à sua dificuldade de existir, sem suas narrativas lineares, homogeneadoras, totalizadoras e encadeadoras. Há muita afirmação em muitas críticas historiográficas que estão eivadas do conceito de dialética, concebendo as diferenças nas formas historiográficas como produto do lugar do historiador no contexto sociológico, que procura identificá-lo em algum lugar na estrutura social, que assim o comprometa, e assim, sucessivamente, possa excluí-lo como interpretação, como fruto de uma subjetividade.
Os estudos dos modelos historiográficos, presos ao estruturalismo materialista só se dão, a partir do conceito de contradição, que identifica as produções historiográficas - que desarrumam o que consideram como história verdadeira - como sendo de cunho ideológico. Presos a esse modelo, não conseguem pensar nada, no que toque à ciência histórica, sobre o passado, que não seja através da busca das origens, dos antecedentes de qualquer acontecimento histórico e de sua conexão com uma meta-história em busca de uma finalidade. Através de nexos encadeadores ligam a formas de sucessões acontecimentos um ao outro, presos a uma ordem discursiva que os instituem como produtores historiográficos sobre o passado.
A singularidade, só tomaria sentido, dentro de um modelo que garantisse nexos entre ela e uma meta-narrativa que a tornaria inteligível. Para tanto teria que estar inserida em toda sua instrumentalidade conceitual: em suas noções de tempo, em suas estratégias, rumo a formas escatológicas e teleológicas. Há o que Foucault entende como uma dificuldade nauseante para com a singularidade dos acontecimentos, das diferenças que faz o acontecer dos afastamentos. Há uma vontade naturalizada, uma verdadeira necessidade de captura de tudo que ponha em dúvida o idêntico e torne uma ameaça de sua desintegração. Há um cuidado exacerbado com tudo que torne obstáculo à história linearizante e totalizadora. A relação entre substancia e sua derivação torna-se um lugar de tensão e vigília. É como se tivéssemos medo de pensar as multiplicidades do passado, as dispersões diluidoras das elucubrações metafísicas que as colocam em cheque. Parafraseando Foucault, quando ele afirma que é como se tivéssemos medo de pensar o outro dentro do nosso próprio pensamento, disséssemos que é como se a historiografia brasileira tivesse medo de pensar as outras formas culturais de mundo, de vida, de espaço, de trabalho nas suas próprias formas de pensamento sobre tudo isso. Ou como nos afirma Foucault:
É como se aí onde estivéramos habituados a procurar as origens, a percorrer de volta, indefinidamente a linha dos antecedentes, a reconstituir tradições, a seguir curvas evolutivas, a projetar teleologias, e a recorrer continuamente às metáforas da vida, experimentássemos uma repugnância singular em pensar a diferença, em descrever os afastamentos e as dispersões, em desintegrar a forma tranqüilizadora do idêntico. Ou mais exatamente, é como se a partir desses conceitos de limiares, mutações, sistemas independentes séries limitadas – tais como são utilizados pelos historiadores – tivéssemos dificuldades em fazer a teoria, em deduzir as conseqüências gerais e mesmo em derivar todas as implicações possíveis. É como se tivéssemos medo de pensar o outro no tempo de nosso próprio pensamento.[8]
Há uma certa preocupação de Foucault com o que chama de antecipação aplicada por inserções de metáforas que garantem “o lugar das continuidades ininterruptas”. Essa atitude dos historiadores estaria alicerçada em uma tentativa de unir por “encadeamentos”, de forma que “nenhuma análise poderia desfazer sem abstração”. Assim é com um certo tipo de história que vem prevalecendo como verdade histórica, que muitos de nós tem se conduzido e acionados por esse modelo. Ao nos exercitarmos instituídos por essas continuidades, estaremos conduzindo aqueles que estão nos ouvindo, reduzindo-os a um saber pastoral, roubando-lhes o lugar de abertura do mundo. Ao nos instituir a partir de um sistema de pensamento que fecha o mundo, impedimos a diferença em nome de uma totalidade sufocante. Tendo sua fonte nas estruturas literárias que, milenarmente, tem construído, via uma ordem discursiva, suas unidades literárias, fazem com que nesse mesmo tempo, que imaginam estar proporcionando um saber libertador, está sim, pelo contrário transformando seus pretensos atos libertadores, em verdadeiro arrebanhamento e sua conseqüente transformação em pensamentos agrilhoados e esterelizados pelo saber ascético.
Mascarado na imagem de formação-saber funciona como corretivo-liberação[9], ao alicerçar-se nessas unidades discursivas que se opõe a todo tipo de diversidade, todo tipo de diferença. Ao tentar aplicar uma forma homogeneizadora transcendental sobre as multiplicidades culturais, tanto a nível coletivo quanto individual, agem como experimentassem “uma repugnância singular em pensar a diferença, em descrever os afastamentos e as dispersões, em desintegrar a forma tranqüilizadora do idêntico”. Na ilusão de um ensino ilustrador e emancipador tornam-se aprisionadores de almas.
O que se pode observar é que essa forma de procedimento é uma necessidade cotidiana no mundo da historiografia estrutural e totalizadora e com isso, observamos a construção de uma historiografia sintetizadora, que parece viver na angústia de garantir uma certeza salvadora contra as diferenças produzidas pela história fremente.
É como se ela tramasse, em torno do que os homens dizem e fazem, obscuras sínteses que a isso se antecipam, o preparam e o conduzem, indefinidamente, para seu futuro, ela seria, para a soberania da consciência, um abrigo privilegiado. A história contínua é o correlato indispensável à função fundadora do sujeito: a garantia de que tudo que lhe escapou poderá ser devolvido; a certeza de que o tempo nada dispersará sem reconstituí-lo em uma unidade recomposta; a promessa de que o sujeito poderá, um dia – sob a forma da consciência histórica – se apropriar, novamente, de todas essas coisas mantidas à distância pela diferença, restaurar seu domínio sobre elas e encontrar o que se pode chamar sua morada. Fazer da análise histórica, discurso do contínuo e fazer da consciência humana o sujeito originário de todo o devir e de toda prática são as duas faces de um mesmo sistema de pensamento. O tempo é aí concebido em termos de totalização, onde as revoluções jamais passam de tomadas de consciência.[10]
Desde o século XIX, sob formas diferentes, segundo Foucault, esse tema representou um papel constante: “proteger, contra todas as descentralizações, a soberania do sujeito e as figuras gêmeas da antropologia e do humanismo.”[11]. No afã de garantir uma história contínua, constroem uma história desencarnada, destituída dos acontecimentos múltiplos e descontínuos nos seus espaços e tempos em que práticas diversas constituíram formas culturais de funcionamento humano. Diante da impossibilidade de contornar as irrupções contínuas e desestabilizadoras, a história do pensamento que permanece como lugar das continuidades ininterruptas, torna-se uma prática regulamentadora que mantém, onde possa haver nexos interruptores, encadeamentos conectores. Mantém-se como sentido de vida, como se realmente o fosse. Para isso necessita estar, vigilantemente e ostensivamente, se instituindo como entidade mantenedora de controle contra qualquer análise, que porventura possa se constituir em ameaça de interrupção dessa necessidade evolutiva e refinadora do sentido humano. Um exemplo clássico na literatura historiográfico brasileiro foi o intenso burburinho produzido pela forte oposição das obras de Gilberto Freire, que veio à luz de forma a por em cheque o discurso evolucionista das ciências humanas, em particular aquelas produções historiográficas, que envolvidas pelo discurso antropológico, e se apresentando como seu pseudo-inimigo, não conseguiram se desfazer de noções como evolução. Mais particularmente temos convivido com críticas, que ao não conseguirem se desvencilhar das estruturas marxistas, fizeram coro, contra outros estilos historiográficos de construção sobre o passado brasileiro, impedindo seu acesso aos estudantes de todos os graus.
O que já acontecia com os literatos do final do século XIX e início do XX, como Machado de Assis, José de Alencar, Lima Barreto, etc. veio à tona com a obra de Freire, repetindo a emergência dos trabalhos antropológicos de seu orientador Franz Boas que rompeu com o discurso positivista da antropologia, deslocando a análise racista para a análise das estruturas culturais que produziam problemas que eram atribuídos a questões raciais. Se Boas foi atacado pelos positivistas, seu orientando sofreu o mesmo nas mãos dos historiadores marxistas. Sob esse tema da continuidade, houve uma luta constante pela hegemonia do lugar da verdade sobre o passado. Ao analisarmos as produções historiográficas sobre o período colonial e compararmos com o que convivemos nos planos de cursos, ficamos pasmos quanto à naturalização de discursos historiográficos estruturalistas e de sua materialização como ementa, como se fosse, ela mesma a verdade sobre o passado colonial[12].
Um exemplo disso é o conteúdo da ementa da disciplina História do Brasil Colonial. Vejamos: “Estudo do Brasil Colonial. Suas relações econômicas, sociais e culturais, através das diferentes abordagens historiográficas e documentos”. Como podemos observar, essa ementa já vem predisposta pela proposição “relação econômica” de forma positivada, como uma unidade discursiva válida, como uma análise da realidade. Essa mesma análise vê as outras análises como estudo de imaginários, idéias e mentalidades. Em outros casos são considerados como ideológicos. Outro exemplo interessante é o caso de Boris Fausto, que em sua obra História do Brasil, diz que vai apenas falar de aspectos sociais, econômicos e políticos, deixando de lado aspectos culturais. No caso ora exposto fica claro a análise a partir de estudos estruturalistas, bem referidos ao esquema montado por Louis Althusser, em sua obra Aparelhos Ideológicos do Estado. Como aspecto cultural entende obras literárias, tidas como de ficção, e artes plásticas de artistas da época analisada, Esta forma foi predominante nas obras a partir da segunda metade da década de 80 do século XX.
Alfredo Bosi (1992), é um exemplo de distinção de que seria uma história da realidade e a que não trata diretamente dessa realidade. Não querendo intensificar a análise de seus estudos, que serão feitos em momento propício, mostraremos apenas os elementos norteadores de sua leitura do estruturalismo, ou do estudo sistemático. Vejamos o que afirma Bosi.
Distingo os termos sistema e condição para marcar nitidamente as notas desse acorde que parece justo e consoante a alguns ouvidos, mas dissonante e desafinado a outros. Por sistema entendo uma totalidade articulada objetivamente. O sistema colonial, como realidade histórica de longa duração, tem sido objeto de análises estruturais de fôlego, como o fizeram, com tônicas diversas, Caio Prado Jr., Nelson Werneck Sodré, Celso Furtado, Fernando Novais, Maria Sylvia Carvalho Franco e Jacob Gorender, para citar apenas alguns de seus maiores estudiosos.[13]
Bosi apesar de acrescentar dois elementos para a análise da vida colonial como sendo a condição, mesmo entendendo-os como complementares desacredita das formas de análise de dois estudiosos do Brasil Colonial. Para ele seus representantes seriam Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda. Tal condição estaria encarregada de estudos da condição doméstica tradicional. Apesar de ser bastante elogioso a esses autores, os contrapõe, entendo-os como não sistemáticos se negarmos o que para ele é, uma totalidade articulada objetivamente.
[1][1] FOUCAULT, Michel. Arqueologia do Saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1987. p. 05
[2][2] ibid. p. 05.
[3] Somos testemunhas do abismo que existe entre os que publicam tudo que produzem pelo fato de ter nomes que vendem a obra, ou pertencem e, do outro lado uma infinidade de gastos do dinheiro público com o financiamento de trabalhos de pesquisa que apesar do seu grau de seriedade e qualidade, ficam a mofar nas estantes das bibliotecas sem a mínima chance de publicação.
[4][3] Ibid. p. 05.
[5] Cf. Hayden White. Trópicos dos Discursos. São Paulo: Editora da Unesp
[6] ibid. p. 154.
[7][5] num outro momento estaremos fazendo um estudo de alguns dos que mais se tornaram manuais, como Ciro Flamarion Cardoso, Carlos Guilherme Mota, Nilo Odália, José Honório Rodrigues, José Carlos Reis. No campo da, assim denominada, Prática de Ensino, que parece somente valer para o ensino de história no ensino fundamental e médio. Entre eles, Selva Guimarães, Circe Bitencourt, Cabrini, Nitiuk, Kátia Abud,Delia Fenelon, etc.
[8][6] Ibid. p. 14.
[9][7] Cf. em Hermenêutica do Saber, onde Foucault trabalha a formação da alma-sujeito do homem ocidental.
[10] Ibid. p. 14.
[11] Ibid. p. 14.
[12] Vide um concurso da UFMT, em que o edital dava destaque para o que entendia como “domínio de conteúdo”, como sendo o fator principal do valor a ser dado na nota dos concursandos. A banca ao ser interpelada por um dos candidatos qual seria o critério para escolha dos conteúdos adotados como verdadeiros, a banca sem resposta, apenas desvencilhou-se da pergunta, com uma resposta estranha que foi essa: “não se preocupe que isto só será exigido na segunda fase, na prova didática”. O tom de exclusão ou não do candidato fica por conta do leitor.
[13][8] BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p. 26.
